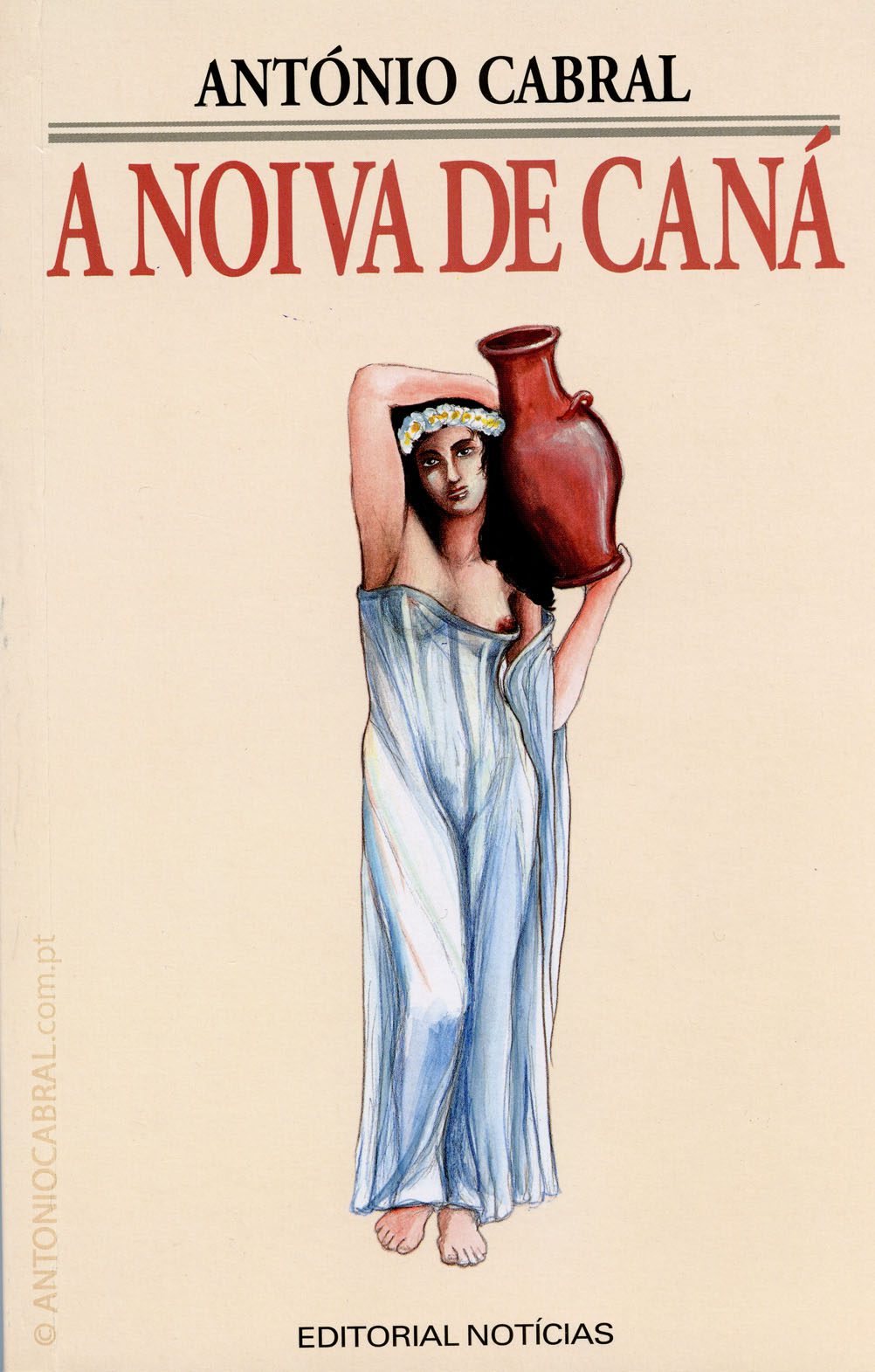De seu nome Francisco Alexandre Lobo, o caseiro viera para a quinta numa roga de montanheiros dos lados de Jales. Na sua terra, a Cerdeira, tinha assistido à debandada dos rapazes da sua idade, desejosos de vida mais limpa, a governarem agora a vida na França e outros países onde o dia, dizem eles, só tem vinte e quatro horas. Assistiu a isso, enquanto se atolava nos leiros e olhava as estrelas, antes de romper o dia, umas cabras que se lhe punham a chocalhar a luz na testa como o rapaz da campainha à frente dum enterro. Vivia numa casa térrea, só com a mãe e o pai, dois tropeços resignados, e em Agosto ouvia o irmão, que regressava da estranja num bom automóvel e já tinha dinheiro para mandar fazer uma casa e comprar umas courelas para milho e batata com fartura, além de uma pipoca de morangueiro.
– Queres tu vir comigo, ó Chico? És um casmurro. Arranjava-te lugar na pedreira, em Cahors. Arranjava mesmo. Deixa lá o pai e a mãe, que não se perdem. Com nós dois a mandar-lhes umas massitas, de quando em quando, olha que até podiam comer vitela, todos os dias.
Francisco olhava-o com olhos pingões, engulipava o rosé espumoso que ele trouxera, entre outras coisas de brilho e cagança, e respondia-lhe com um sorriso mais de dentro do que de fora, ele que continha habitualmente os sorrisos, tolhendo-os de exuberâncias e rasgos palradores, sempre uma vara pronta no íntimo a enxotá-los, que nada adiantavam fingimentos e cara alatada a quem de há muito tinha fixado a própria bitola e domesticado sonhos e ideias a andarem numa determinada direcção. Gostava do Zé, admirava-lhe o talento e a audácia, aquele sentido da aventura que o embriagava e – temperado pelo orgulho de não ceder a reparos alusivos à humilhação de dobrar constantemente a cerviz ante senhores de outra cultura, senhores que se banqueteavam nos salões com iguarias que lhe eram vedadas, a ele e a outros como ele, que num quintalório, ao lado da casota do cão, cultivavam meia dúzia de couves galegas, les choux de vaches, como os tais senhores malevolamente diziam, – se mantinha, apesar de tudo, porventura alentado com vinte diazitos de férias anualmente colhidas e onde desfalcava, em tainas e ostentação, algum do cabedal que o justificava. Ele, Francisco, não nascera para ser um monta-cargas, fosse de quem fosse, e para amealhar uns tostões não estava disposto a deambular pelas ruas de uma cidade estranha, como um cão vadio, a dormir num camião abandonado e a levar couces de um capataz que tanto distinguia nas raças como nas nacionalidades. Isto o que ouvia dizer e lhe ressoava constantemente nos tímpanos. Quando servisse um patrão seria um da sua língua, que o entendesse bem, que nele confiasse, que lhe confiasse, se necessário, pois lha defenderia tão bem como os antigos aos castelos.
Ele, Francisco, não nascera para ser um monta-cargas, fosse de quem fosse, e para amealhar uns tostões não estava disposto a deambular pelas ruas de uma cidade estranha, como um cão vadio, a dormir num camião abandonado e a levar couces de um capataz que tanto distinguia nas raças como nas nacionalidades. Isto o que ouvia dizer e lhe ressoava constantemente nos tímpanos. Quando servisse um patrão seria um da sua língua, que o entendesse bem, que nele confiasse, que lhe confiasse, se necessário, pois lha defenderia tão bem como os antigos aos castelos.
Orgulho? Orgulho, sim, neste homem atarracado e bravio, que – dizia-o, às vezes – não admitia que lhe fizessem bulir a passarinha. Como daquela vez na festa da Vreia. Desabafava com o Zé, depois de muito instado, e porque este não se calava enquanto não lhe dissesse como tinha feito aquele galo na cabeça. Mesmo assim, foi de poucas palavras. Estava a conversar com a Aninhas, e o Manel Bica, da Quintã, o zarolho, conheces, abeira-se todo fanfarrão e convida-ma para ir dar uma volta. Ela, tá-te, e ele a pôr-lhe a pata no braço, a puxá-la. Filho da puta. Ó Zé, tu que fazias? Preguei-lhe um sopapo que ele deu meia volta no ar. Juntou-se gente: foi o que lhe valeu. Já eu e a Aninhas desandávamos, quando, à falsa fé, me veio com um pau. Ah catano, se não fosse o povo que ali estava a guardá-lo!
Poucas palavras, mas fortes, como os senhores leitores podem apreciar. O Zé disse-lhe:
– Se fosse por causa de outra. Agora por causa da Aninhas… Tu não gostas dela.
– Goste que não goste. Ali quem mandava era eu.
O Zé calou-se. Agora insistia:
– Anda daí, Chico. Olha que te estou a levar prò bom caminho. Aqui nunca sairás da cepa torta.
– Não vou, já disse. Enche-te de merda e não me chateies.
Bebeu outro copázio, cuspinhou a chatice, a chatice da vida, coçou as costas no escano, deu um peido descarado, entesou-se e foi regar a horta. Atrás de tempo tempo vem e, se não vier, puta que o pariu. Um home é um home e um bicho é um bicho. Ora. Vinte centos de cebolo era o que tinha no lameirito, uma belga rodeada de calhaus empinados onde pouco mais cabia do que o cebolo – lugar apenas para um talhão de pimentos e tomates e, a todo o comprimento do lado maior, um rego de abóboras, algumas já grandes como pipos, vou levar uma para nós e outra, aquela mais encorrilhada, para o reco. Deixa-me ver: há por aí muitas porretas já tombadas, estais a pedir arranca, é isso, não rego mais, só os pimentos e os tomates, também as abóboras que saíram melhores do que eu pensava, o ano passado foi só rama e estendal, não deram prà água e prò puto do trabalho, e olha que eu bem as estrumei, ainda melhor que este ano, é uma porra, quem lida coa terra nunca sabe o que vem de baixo, se o diabo se põe ao pé da raiz, adeus viola, é por isso que eu tenho a cruz de Maio naquela esquina, às vezes não adianta, mas outras vezes, como este ano, vá lá, o diabo é fistor, quando nos deixa à vontade é porque tem alguma ferrada nos tinteiros, que se cosa, eu nunca o vi nem quero, abrenúncio.
Se me der na real gana, há-de ser já este ano, numa roga, ir para o Douro, andar com os cestos às costas, como o gigante S. Cristóvão com o menino Jesus, encher-me de uvas, daquelas que são docinhas como o mel, comer sardinha da grande, cada uma de duas vezadas, rasga daqui, rasga dali, já está, agora um copo do bô, ó patrãozinho, bote pra cá a chelpa; avie-se. E as raparigas a rirem-se no meio das videiras.
Os quatro girassóis, um em cada canto do quadrado, riam-se a bom rir, cabeças derreadas com os murros do sol, mas matutos, olho vivo e perna amarela, uns farsolas. Deixai lá, meus descarados, que qualquer dia estais mas é no papo das galinhas. Esta ratoqueira é que me dá cabo da paciência, fura pràqui, fura pràli, toupeira do diabo que, se te apanho, faço-te em papas, vem a água pelo rego adiante e quando cai em lorga, adeus, leva logo sumiço, o que vale é que a poça, esta rica pocinha, tem muita, a Deus graças, ora deixa-me rilhar este ceboleco, parece enguiçado, se calha tem o diabo dentro, que tenha, vai à mesma, como-o e cago-o. Um girassol piscou o olho a outro, enquanto o Francisco metia o grabano na água, fazendo-o deslizar para um lado e para o outro, levemente, para conseguir afastar os ciscos e obter uma nesga limpa, um tentilhão que ali passava, de um castanheiro para o seguinte, suspendeu o voo, ao ver aquilo, a água remexida punha-lhe reflexos finos nos olhos e atraía-o, mas tinha mesmo de esperar, por causa daquele gajo que era mesmo menino para lhe acertar com uma pedra, os homens são tão maus. E Francisco já a beber, bebia, ah, és bem melhor do que a morraça que o meu irmão traz lá de Cahors, do cu de Judas. Olha ir com ele, hei-de ir, sim, mas para onde as pernas me levarem. Se me der na real gana, há-de ser já este ano, numa roga, ir para o Douro, andar com os cestos às costas, como o gigante S. Cristóvão com o menino Jesus, encher-me de uvas, daquelas que são docinhas como o mel, comer sardinha da grande, cada uma de duas vezadas, rasga daqui, rasga dali, já está, agora um copo do bô, ó patrãozinho, bote pra cá a chelpa; avie-se. E as raparigas a rirem-se no meio das videiras.
Foi de facto numa roga.
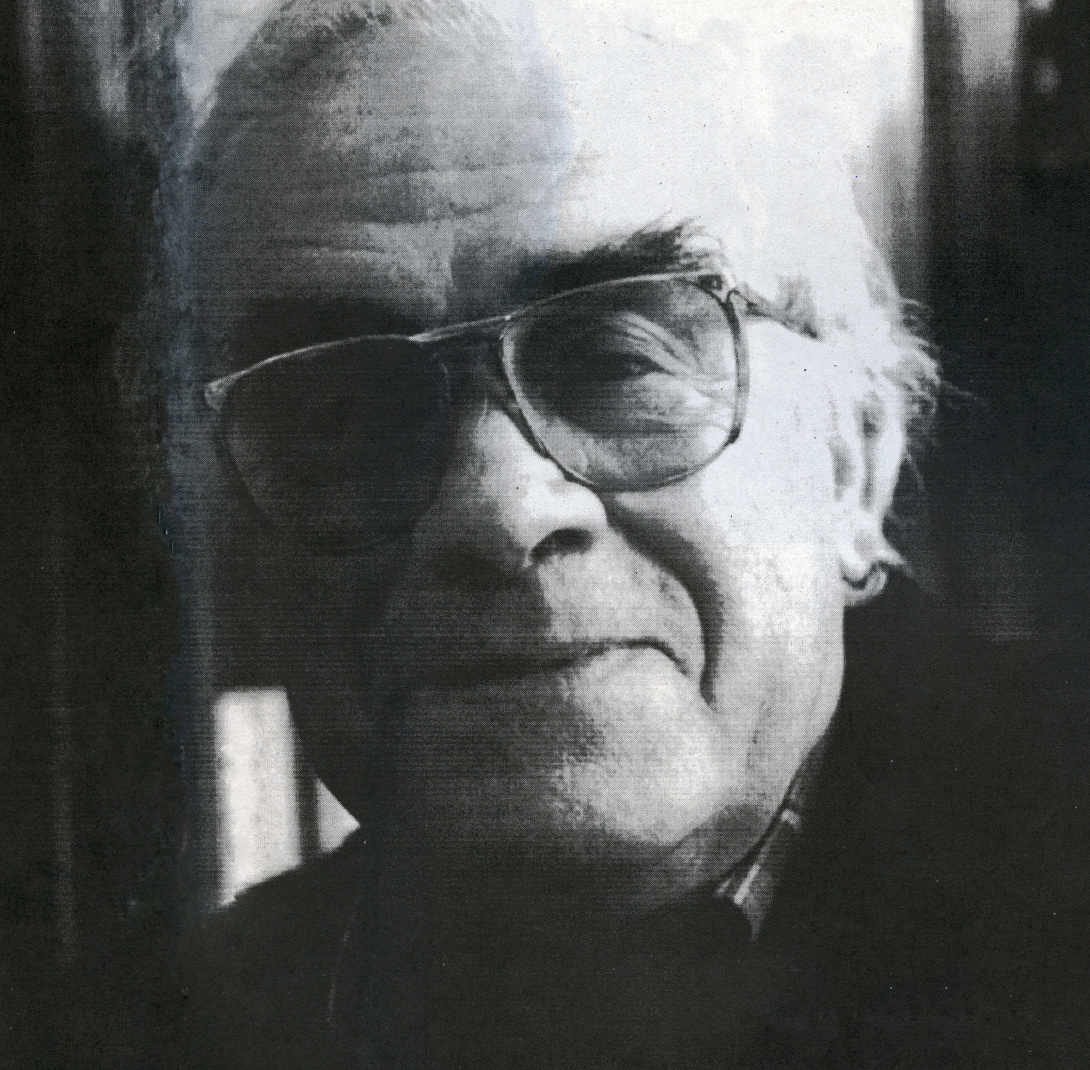
António Cabral [1931-2007] foi um poeta, ficcionista, cronista, ensaísta, dramaturgo, etnógrafo e divulgador da cultura popular portuguesa.
Nascido em Castedo do Douro, em pleno coração duriense, a 30 de Abril de 1931, iniciou a actividade literária com o livro de poesia Sonhos do meu anjo, publicado em 1951. Ao longo de 56 anos de carreira dedicada à escrita, publicou mais de 50 livros em nome próprio, abraçando géneros tão diversos como a poesia, o teatro, a ficção e o ensaio, dedicando-se em paralelo ao estudo apurado e divulgação das tradições populares portuguesas. As suas raízes transmontano-durienses e a ligação à terra que o viu nascer, “o Paraíso do vinho e do suor“, são presença incontornável em toda a sua obra.
Colaborou em jornais e revistas de todo o país, co-fundou as publicações Setentrião, Tellus e Nordeste Cultural, participou em programas televisivos, radiofónicos e conferências, contribuiu com textos para várias antologias, colectâneas e manuais escolares, prefaciou livros. Alguns dos seus poemas foram cantados, no período pré 25 de Abril, por Francisco Fanhais, Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire e, mais recentemente, interpretados pelos Xícara, Rui Spranger, Blandino e Rui David.
No campo da intervenção sociocultural dirigiu, a nível distrital, instituições como o F.A.O.J. (Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis) e o I.N.A.T.E.L. (Instituto Nacional de Aproveitamento dos Tempos Livres), fundou e co-fundou o Centro Cultural Regional de Vila Real (C.C.R.V.R.) e A.N.A.S.C. (Associação Nacional dos Animadores Socioculturais), respectivamente. Como Presidente do C.C.R.V.R., promoveu cinco encontros de escritores e jornalistas de Trás-os-Montes e Alto Douro e impulsionou a realização de vários encontros de jogos populares em Portugal e no estrangeiro.
Diplomado em Teologia pelo Seminário de Santa Clara de Vila Real e Licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, António Cabral exerceu actividade de docente nesta cidade desde 1961 até 2007, no ensino particular, secundário e Magistério Primário, com um breve interregno entre 1988 e 1991, anos em que se dedicou à investigação de jogos populares e ludoteoria como bolseiro do Ministério da Educação.
Foi agraciado com as medalhas de prata de mérito municipal pelas autarquias de Alijó (1985) e Vila Real (1990).
António Cabral faleceu em Vila Real, vítima de doença cardíaca, a 23 de Outubro de 2007. Tinha 76 anos de idade. Nesse mesmo ano de 2007 publicou o livro de poesia O rio que perdeu as margens e deixou no prelo A tentação de Santo Antão, prémio nacional de poesia Fernão Magalhães Gonçalves.